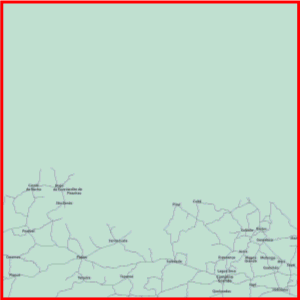Na sequência de determinação do referido grupo, já em 1949, a Missão Abbink elaborou um documento onde analisou, não só, os segmentos econômicos e as precondições para o desenvolvimento, mas, também, a participação do Estado Brasileiro e do capital estrangeiro. Esse estudo foi a primeira tentativa de assentar um plano de desenvolvimento para o Brasil, apesar de não detalhar os projetos, tampouco de estimar os recursos financeiros necessários à implementação, o que já evidenciava sua ineficiência para alcançar os objetivos pretendidos.
O Governo de Eurico Gaspar Dutra, a seu turno – e que vinha trabalhando paralelamente com os mesmos dados – também divulgou, em 1949, um conjunto de medidas a serem implementadas daquele ano até 1953. Essas medidas ficaram conhecidas como Plano Salte. O acrônimo SALTE é constituído pelas letras iniciais das palavras Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, que compunham as áreas a serem incentivadas.
Como, até então, não havia recursos externos para alavancar a industrialização, o Governo Dutra perfilhou uma política de crédito mais liberal, concedendo, por exemplo, empréstimos do Banco do Brasil a setores industriais considerados essenciais.
Dessa ideação resultaram algumas fábricas localizadas no Sudeste, mas nada de relevante para o Nordeste – o que reafirmava o afastamento da Região desde sempre – pelo fato de que o SALTE não previa um planejamento em escala nacional. Ainda assim, nos últimos anos do Governo sob comentário, a economia brasileira denotava índices de crescimento expressivos, de 6% ao ano. O Nordeste, entretanto, mais uma vez não se beneficiou dessa dilatação, confirmando a tradição malsã de excludência, ainda vigente na realidade em curso.
Nesse período, impõe-se enfatizar o fato de que, por décadas, as tragédias ocasionadas pelo clima no Brasil eram somente as “secas do Nordeste”, estampadas nas primeiras páginas dos jornais e na maioria dos meios de propagação coletiva em todo o Estado Nacional, que exibiam imagens de crianças esquálidas pela fome, migração em massa, animais no chão esturricado, forjando o estereótipo de um grande e oneroso locus para o País, já que a ação da elite política local se limitava, tão somente, a pressionar o Governo Federal por mais e mais recursos, sem, todavia, propor uma política de desenvolvimento para a Região. Essa atitude só contribuiu para reforçar o estigma de uma terra cada vez mais miserável!
Vale o registro de que foi na primeira metade da década de 1950, isto é, correspondente ao início do segundo Governo Vargas, que ocorreu a maior saída, até então registrada, de nordestinos desesperados para outras regiões do País, especialmente para São Paulo, o que intensificou as preocupações do Governo Federal com o flagelo regional. Nesse tempo, além da seca, a economia do Nordeste vinha de um extenso período de estagnação, com agricultura atrasada e pouco diversificada, grandes proprietários de terras, débeis relações capitalistas de produção, concentração de renda e indústria com baixíssima produtividade.
Malgrado todas essas adversidades de atraso econômico e social, baixa industrialização, falta de infraestrutura rodoviária e de transporte, energia e telecomunicações, foi que ocorreram as novas eleições. Consoante registrado na História, no dia 3 de outubro de 1950, Getúlio Vargas foi eleito Presidente da República, retornando, então, pelo voto, a ocupar a mais alçada função no País.
Vargas tomou posse em 31 de janeiro de 1951. O debate iniciado no Governo Dutra sobre estratégias de desenvolvimento econômico teve continuidade, então, com muito maior ênfase, oportunidade em que o Presidente Getúlio Vargas aventou para sua regência a decisão central acerca das políticas sobre o tema, considerando que era necessária a intervenção governamental para direcionar o crescimento econômico brasileiro, de preferência com o apoio do capital estrangeiro.
O Banco do Nordeste do Brasil como ação para o projeto nacional desenvolvimentista de Getúlio Vargas
No segundo governo Vargas, tinha curso um ambiente institucional favorável à criação de um banco como o BNB. No começo, havia sido objeto de promessas de campanha, apontando para a continuidade do desenvolvimento impulsionado pela ação estatal, que caracterizou o período ditatorial de Vargas. Secundariamente, experimentava seguimento uma filosofia desenvolvimentista de cariz institucional consubstanciada na Constituição vigente do País, com base na qual a ação do Estado era largamente protegida. Assim, neste entretempo – segundo Governo Varguista – mudava somente o ambiente político, com a redemocratização, via Carta Grande de 1946, mas o espírito desenvolvimentista impulsionado pelo Estado continuava muito robusto e, objetivamente, expresso no próprio Texto Constitucional.
Nesse âmbito de efervescência desenvolvimentista, foram instituídos dois grandes bancos estatais que mudaram a própria configuração institucional do sistema financeiro nacional – o BNDES e o BNB. As motivações, todavia, para instituir ambas as instituições financeiras foram bem diferentes. A primeira distinção foi que a ideia para implantação do BNB não surgiu de um simples plano, mas de uma filosofia de governo, expressa nos vários discursos da campanha de Getúlio Vargas à Presidência da República, que era para sustentar a continuidade do desenvolvimentismo, transportado robustamente pela ação estatal, iniciado com a Revolução de 1930. Já o BNDES aflorou da ideia de impulsionar o desenvolvimento por meio da industrialização do País e, como é farto na História, inspirado pelas análises da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos – CMBEU.
O aparecimento do BNB na ambiência regional, no início dos anos de 1950, assinala um ponto de inflexão estratégica na política até então vigente com a qual o Governo Federal cuidava dos problemas do Nordeste, onde o Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS) ocupou, por cerca de 40 anos, o lugar de efígie central daquela sucessão desenvolvimentista.
A seca de 1951-1953 registra um significado especial no argumento histórico do Banco do Nordeste do Brasil, porquanto foi depois de uma visita que o Ministro da Fazenda, Horácio Lafer, fez à Região, todavia – uma vez atingida por estiagem prolongada e devastadora –, que despontou a ideia de originar a Instituição. Assim, para o BNB, mais do que uma catástrofe em seus efeitos naturais e políticos, aquela comprida e dolorosa estiagem constituiu, também, um marco em sua trajetória.
Em 1951, conforme há pouco expresso, ocupava o Ministério da Fazenda o político e homem de negócios paulista, que participava no Recife, naquele ano, de um evento promovido por empresários ligados ao setor algodoeiro.
Depois que retornou ao Rio de Janeiro, por meio de uma Exposição de Motivos circunstanciada, Lafer propôs ao Presidente Vargas o instituto de um banco especial, que veio a representar, também, uma mudança radical nos procedimentos de apoio do Governo Nacional ao Nordeste, sob a visão de que esse amparo não devia se restringir apenas aos momentos aflitivos do povo da Região, mas ter um caráter de permanência, atuando como um instrumento transformador da economia regional.
A seca de 1951-1953 e a formulação da proposta para a criação do Banco do Nordeste
Alguns analistas entendem que o BNB foi originado em razão da visita que Horácio Lafer fez ao Nordeste em 1951, quando começava mais uma seca devastadora, e teria ficado bastante impressionado com o que viu – o sofrimento do povo atingido pela seca, a desarticulação do sistema produtivo regional e a impotência das políticas governamentais em decurso, mormente as de “combate às secas”, que eram remédios ineficazes para tanger aquela situação dramática.
Sobra evidente o fato de que uma decisão complexa como a de sugerir o estabelecimento de uma grande instituição financeira de desenvolvimento não haveria de ser resultado de uma impressão conjuntural do Ministro da Fazenda.
Há de se entender, então, o que motivou a formação do Banco do Nordeste, feito algo que era amadurecido, não exatamente como uma ideia de originar uma agremiação nos seus moldes, mas como fundamento para uma política sob a qual convergiam as convicções técnicas, por assim dizer, do financista Horácio Lafer, e as premissas do projeto político do Segundo Governo Varguista. A seca de 1951 patenteou, somente, um fator de precipitação, um catalisador, alguma ideação que faltava para deflagar mudanças cujos fundamentos já vinham sendo constituídos, bem antes de Getúlio Vargas assumir a Presidência pelo voto popular.
A propósito, nem a nova política para o Nordeste, que se propunha, em que o estabelecimento do BNB foi o marco zero, era, como ideia motriz, algo tão novo assim. É azado expressar o argumento de que a falência da velha política assistencialista, exercitada havia cerca de 40 anos, tinha sido constatada há várias décadas por outro titular da Fazenda, o Ministro Ruy Barbosa.
Na vigorosa advertência para a ineficácia daquele tratamento concedido aos flagelados pelas secas do “Norte” (o conceito de “Nordeste” ainda não existia), o Titular baiano do Ministério atentava para a relação entre os gastos astronômicos e os resultados pífios obtidos com aquela política oficial e a carga tributária elevada imposta aos contribuintes. Dizia ele que
“As despesas com os Estados afligidos pela seca formam, no orçamento, uma voragem, cujas exigências impõem continuadamente ao País sacrifícios indefinidos. Cumpre que a política republicana, apenas consiga desvencilhar-se dos grandes problemas que envolvem a sua inauguração, busque a esse problema solução mais inteligente e menos detrimentosa para os contribuintes”. (Apud Paulo Brito Guerra, em A civilização da seca).
A importância do fundo das secas para a criação do BNB
A ideia de instalar o BNB era estabelecer uma instituição para gerir os recursos do chamado “Fundo das Secas”. Os recursos que formavam tal substrato financeiro foram instituídos na Carta Maior de 16 de julho 1934, cujo artigo 177 estabelecia duas diretrizes fundamentais da política de assistência do Governo Federal ao Nordeste, no tocante à defesa contra os efeitos das estiagens, conforme vêm.
a) A defesa contra os efeitos das secas nos então chamados Estados do Norte deveria seguir um plano sistemático de caráter permanente, sob a responsabilidade da União.
b) Era estipulada uma quantia destinada à construção de obras e serviços de assistência de valor nunca inferior a 4% da receita tributária da União sem aplicação especial.
Sobrava estabelecido o fato de que três quartos (75%) desse percentual eram destinados ao custeio das obras normais do plano fixado, ao passo que o restante dos recursos era depositado em caixa especial, para aplicação no socorro das populações atingidas pelas secas.
Determinava-se, pois, que o importe de 4% deveria ser revisto por lei ordinária, após decorridos dez anos de seu estabelecimento.
A Constituição de 1937, que instituiu no País o regime autoritário conhecido por Estado Novo, não tratou sobre o assunto, mas, na Carta Magna de 1946, em seu artigo 198, o tema foi retomado e os recursos do Fundo passaram a ser regidos pelas regras dispostas à continuidade.
a) Na execução do plano de defesa contra os efeitos de determinada seca do Nordeste, a União deveria aplicar, anualmente, com as obras e os serviços de assistência econômica e social, quantia nunca inferior a 3% da sua renda tributária.
b) Um terço daquele percentual haveria de ser depositado em caixa especial, destinada ao socorro das populações atingidas pela calamidade, sendo essa reserva, ou parte dela, passível de ser aplicada a juro módico, consoante as determinações legais, em empréstimos a agricultores e industriais estabelecidos na área abrangida pela seca.
Leia menos