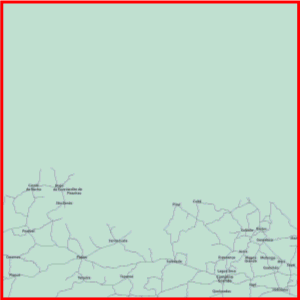A inspeção surpresa do general Donovan em Caracas revela a nova cara da soberania tutelada na América Latina
Por Marlos Porto*
Em 3 de janeiro de 2026, a América Latina acordou para um novo século. A operação militar dos Estados Unidos em Caracas, que resultou no sequestro do presidente Nicolás Maduro e na sua subsequente remoção para julgamento em Nova York, não foi um episódio isolado, mas um terremoto geopolítico que reativou um fantasma que parecia enterrado desde a Guerra Fria: a teoria do dominó.
A mensagem enviada por Washington é clara e brutal: o “quintal” americano será varrido, e qualquer governo que ouse desafiar a hegemonia ou aproximar-se de potências como a China e a Rússia será removido, por meios cirúrgicos e sem o constrangimento de mediações multilaterais. A Venezuela, rica em petróleo e aliada de Moscou e Pequim, foi o laboratório perfeito para essa nova doutrina de restauração imperial, e a pergunta que agora ecoa de forma devastadora é: quem será o próximo? O Brasil, a peça mais preciosa e cobiçada do tabuleiro, está na fila.
Leia maisPara compreender a magnitude do que ocorre na Venezuela, é preciso abandonar eufemismos diplomáticos e enxergar a realidade nua e crua: o país deixou de ser uma nação soberana para se tornar um protetorado administrado sob supervisão direta de Washington.
O que testemunhamos desde 3 de janeiro não foi uma “mudança de regime” tradicional, mas a instalação de um modelo de ocupação soft power, onde as decisões estratégicas são tomadas no Pentágono e no Departamento de Energia dos EUA, enquanto o governo de Delcy Rodríguez funciona como uma gerência local encarregada de manter a ordem e a retórica.
A visita surpresa do General Francis Donovan, chefe do Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM), a Caracas, em 18 de fevereiro de 2026, é a imagem mais precisa dessa nova relação de poder. A embaixada americana classificou o dia como “histórico”, e não era para menos: era a primeira vez em décadas que o comandante militar máximo para a América Latina pisava em solo venezuelano para reunir-se com as “autoridades interinas”.
Donovan não veio como um diplomata em missão de paz; ele veio “avaliar o tema de segurança, garantir a implementação do plano de três fases do presidente dos EUA e avançar no objetivo de uma Venezuela alinhada com os Estados Unidos”. A linguagem é de supervisão, não de negociação.
É como um prefeito que aparece de repente num canteiro de obras ou num departamento municipal esquecido: não para pedir, mas para fiscalizar, para verificar se o serviço está sendo executado conforme o projeto aprovado na matriz.
A diferença é que, aqui, o “prefeito” é um general de quatro estrelas, o “canteiro de obras” é uma nação inteira, e o “projeto” foi desenhado na Casa Branca. O roteiro da visita confirma essa dinâmica: antes de encontrar Delcy Rodríguez, Donovan começou o dia reunindo-se com “sua equipe composta por membros do serviço conjunto, mais uma vez supervisionando as instalações da embaixada dos Estados Unidos”.
Ou seja, ele chegou, checou suas próprias tropas — a Força Conjunta permanentemente estacionada em Caracas, aquela “imediância” estratégica — e só então subiu ao palácio para a reunião com a presidente interina e seus ministros, numa mensagem inequívoca de que o poder real está na embaixada, não no Miraflores.
Os encontros de Donovan com Delcy Rodríguez, o ministro da Defesa Vladimir Padrino e o ministro do Interior Diosdado Cabello tiveram um objetivo central: “garantir a implementação do plano de três fases do presidente Trump”.
Esse plano, anunciado pelo secretário de Estado Marco Rubio, é a verdadeira constituição da nova Venezuela: estabilização (fase atual), garantindo a segurança interna e o controle do território; crescimento e reconstrução, abrindo a economia, especialmente o petróleo, ao capital privado americano; e transição democrática, conduzindo o país a um governo “amigável, estável, próspero e democrático”, nas palavras do Comando Sul.
O prazo estimado para completar as três etapas é de cerca de dois anos, e até lá Washington deixou claro que “administrará os negócios de petróleo da Venezuela indefinidamente”, mantendo uma presença naval robusta no Caribe e o controle sobre as contas que recebem os recursos do petróleo vendido aos EUA.
A visita de Donovan também serviu para verificar a equipe militar americana já posicionada em Caracas, com membros da Força Conjunta dos EUA permanentemente alojados na embaixada, funcionando como os olhos e ouvidos do Comando Sul no dia a dia, garantindo que a “estabilidade tutelada” seja monitorada 24 horas por dia.
Em suma, a Venezuela de hoje é um país onde o chefe de Estado foi capturado por forças especiais americanas e aguarda julgamento em Nova York; a presidente interina governa sob ameaça explícita de sofrer o mesmo destino se não se alinhar; o comandante militar dos EUA visita Caracas para “garantir” a execução de um plano desenhado na Casa Branca; os ministros da Defesa e do Interior, ambos indiciados por narcotráfico nos EUA, sentam-se à mesa com o general americano para acertar uma “agenda de cooperação bilateral”; e os recursos do petróleo são geridos por Washington, com os pagamentos depositados em fundos supervisionados.
Esta é a nova cara da soberania na América Latina, e a pergunta sobre quem será o próximo ganha contornos ainda mais inquietantes quando se observa a coreografia dessa visita: o general que supervisiona, a presidente que obedece, e a Força Conjunta que garante que o “canteiro de obras” não fuja do projeto.
A substituição relâmpago de Maduro por Delcy Rodríguez é a imagem do futuro que nos espera, e o governo brasileiro, por meio de seu embaixador na ONU, já classificou a ação como uma violação inaceitável do direito internacional, que coloca em risco a paz na região e evoca os piores capítulos da história latino-americana.
No entanto, a diferença crucial entre o passado e 2026 é que, desta vez, a Casa Branca é ocupada por um presidente que não apenas apoia abertamente a ultradireita global, mas que já declarou que a “dominância americana no Hemisfério Ocidental nunca mais será questionada”. Com Donald Trump de volta ao poder, o cenário é radicalmente distinto.
Diante dessa ameaça existencial, uma análise fria do cenário internacional revela um dilema brutal para o Brasil. As opções de alianças de defesa de longo prazo são escassas e problemáticas: a China é o principal parceiro comercial e um ator fundamental no Sul Global, com investimentos massivos em setores estratégicos, mas Pequim não faz alianças militares, pois sua doutrina é de não intervenção, e estender um “guarda-chuva” ao Brasil significaria um confronto direto com os EUA na sua esfera de influência, algo que a China evita cuidadosamente; a Rússia é um parceiro histórico nos BRICS, mas a guerra na Ucrânia a exauriu, e sua incapacidade de proteger a Venezuela, seu aliado na região, foi a prova cabal de que Moscou não tem hoje capacidade de projetar poder para garantir a defesa do Brasil; a França surge como a única alternativa realista, pois a relação entre Lula e Emmanuel Macron é densa e tem produzido acordos concretos em defesa, tecnologia nuclear e minerais estratégicos, além de a França discutir, neste exato momento, estender seu próprio “guarda-chuva nuclear” a parceiros europeus, sinalizando uma disposição inédita para repensar sua doutrina de dissuasão.
No entanto, o grande obstáculo para uma aliança desse porte com o Brasil é a nossa própria instabilidade interna: o ativismo judicial nos mais altos escalões, a polarização crônica e a imprevisibilidade política fazem do Brasil um parceiro de risco, minando a confiança necessária para um pacto de defesa de longo prazo.
É nesse contexto de escassez de aliados confiáveis e vulnerabilidade estratégica que uma voz jovem e lúcida emerge do parlamento brasileiro com uma proposta que, até recentemente, seria considerada tabu. O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para autorizar o Brasil a desenvolver armas nucleares com fins dissuasórios.
A movimentação do parlamentar, um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL) e figura proeminente da nova direita, não é um surto belicista, mas sim uma leitura fria e realista do momento histórico. Na justificativa de sua PEC, Kataguiri acerta ao diagnosticar que o cenário internacional está marcado pela “retomada da lógica das potências nucleares como instrumentos centrais de dissuasão e equilíbrio estratégico”.
Para ele, a falta de um instrumento de dissuasão coloca o Brasil em situação de vulnerabilidade contra ingerências internacionais sobre seus recursos estratégicos, como o petróleo e as terras raras. “Em um mundo onde o poder é, em grande medida, determinado pela capacidade de defesa e pela autonomia tecnológica, manter-se desarmado frente à realidade nuclear global significa permanecer em condição de vulnerabilidade estratégica”, escreveu o deputado.
Kim Kataguiri representa uma direita que busca se diferenciar do bolsonarismo tradicional — ele próprio se define como parte de uma “direita antibolsonarista” e paga um preço político por essa coerência — e sua trajetória, marcada pela defesa da ética na política e pelo combate a privilégios, confere-lhe legitimidade para pautar um tema tão sensível sem ser acusado de extremismo.
Ao propor que o Brasil debata abertamente sua capacidade de dissuasão nuclear, Kataguiri presta um serviço ao país: obriga a classe política e a sociedade a enfrentarem a pergunta incômoda, mas necessária, de como garantir a soberania nacional em um mundo onde as regras do jogo são escritas por quem tem poder de fogo para impô-las.
O cenário é ainda mais complexo porque a principal ameaça à soberania brasileira pode não vir apenas de fora, mas de dentro. Setores da ultradireita, alinhados organicamente ao trumpismo, já demonstraram que seu projeto político é de submissão estratégica a Washington.
Enquanto Eduardo Bolsonaro paga um preço por sua ousadia na linha de frente internacional desse movimento, seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro, já cruzou uma linha que beira a definição jurídica de traição nacional ao defender publicamente que os EUA atacassem embarcações em águas jurisdicionais brasileiras.
Ambos, fiéis a um americanismo subserviente, apoiam incondicionalmente o governo de Israel, mesmo diante das acusações de genocídio em Gaza, revelando a face de um projeto que coloca alianças ideológicas acima do direito internacional e da vida de populações civis. Essa disposição de entregar a soberania em troca de apoio político não é retórica, mas um projeto de poder que, com Trump na Casa Branca, pode encontrar o respaldo externo desejado.
Diante da gravidade do momento, o debate sobre a anistia emerge não como uma pauta do passado, mas como um instrumento de pacificação para o futuro. A ideia de uma anistia ampla, que permita ao país superar suas fraturas e voltar a se enxergar como uma nação una diante de ameaças externas, ganha contornos de necessidade estratégica.
Não se trata de concordar com este ou aquele ator político, mas de reconhecer que um país dividido é um país vulnerável. Lula, ciente dessa encruzilhada, tem ensaiado um movimento para capturar o discurso da união nacional. Depois de décadas cultivando a imagem de polarizador, o presidente tenta agora se apresentar como o grande articulador de uma frente ampla em defesa da soberania.
Há quem diga, nos corredores da política, que sua tentativa de emular até mesmo o figurino de Aldo Rebelo — com direito ao chapéu panamá que virou marca registrada do ex-ministro — é um sinal de que algo mudou no tabuleiro. O gesto, que poderia ser visto como anedótico, revela um reconhecimento implícito: o discurso da união nacional tem um dono, e é preciso se aproximar dele.
Neste beco aparentemente sem saída, uma figura emerge como a personificação da única saída estratégica: Aldo Rebelo, que recentemente se filiou ao Democracia Cristã (DC) e lançou sua pré-candidatura à Presidência da República em 31 de janeiro de 2026. Sua trajetória singular — ex-militante comunista, presidente da Câmara, ministro da Defesa no governo Dilma Rousseff e hoje pré-candidato pelo DC — confere-lhe uma rara capacidade de trânsito entre os mundos da esquerda e da direita.
Como ex-ministro da Defesa, Aldo tem a legitimidade e o conhecimento do Estado para articular uma frente ampla em defesa da soberania, um discurso capaz de unir patriotas de diferentes espectros ideológicos. Sua movimentação recente, buscando diálogo com setores da direita nacionalista e articulando alianças como o apoio a Wilson Witzel no Rio de Janeiro e a Ciro Gomes no Ceará, demonstra que ele compreende a urgência do momento.
Em um cenário de ameaça externa iminente, Aldo Rebelo não é apenas um nome; ele é a materialização de um pacto necessário: a união de esquerda e direita em torno de um projeto de nação soberana, capaz de dizer “não” à tutela estrangeira.
As eleições de outubro de 2026, portanto, não são uma disputa convencional. Elas decidirão se o Brasil será sujeito ou objeto da geopolítica, se continuará a ser um país que constrói seu próprio destino ou se aceitará, por vontade própria ou por omissão, tornar-se a próxima peça a cair no dominó, sob o olhar cúmplice de seus algozes internos.
A América Latina já viu esse filme. Sabemos como ele começa: com um general que chega de surpresa para fiscalizar o “canteiro de obras”. A questão é se, antes que a próxima peça comece a balançar, teremos a lucidez e a coragem de reescrever o final, usando os instrumentos da pacificação e da união para construir um país que, enfim, se respeite.
*Bacharel em Direito
*Pesquisa e redação final com suporte do DeepSeek – Assistente de IA