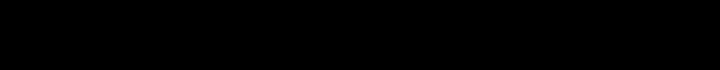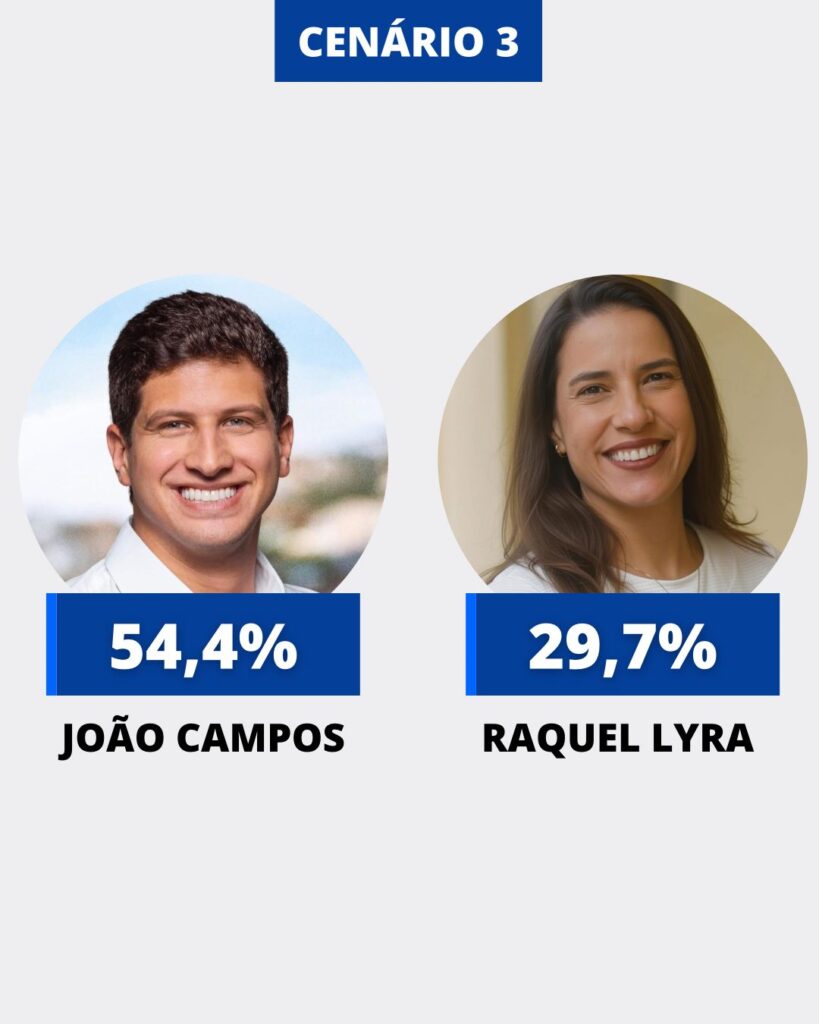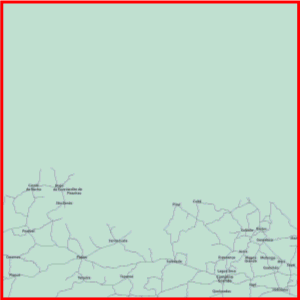Por Flávio Chaves*
Há um tipo de dor que não encontra tradução imediata. Ela não se deixa capturar nem pelo grito nem pelo gesto. Está ali, como um vulto atrás da porta, como um animal de silêncio que respira junto conosco. Falo das lágrimas que ficaram pelo caminho quando mais se precisava chorar. Aquelas que não chegaram a cair, mas pesaram o rosto. Que não molharam o chão, mas inundaram o peito.
Essas lágrimas, que não foram vistas por ninguém, transformaram-se em pássaros mortos no forro do peito, ocultos aos olhos, mas exalando o cheiro morno daquilo que jamais partiu. Há dores que escolhem não se anunciar. Preferem os cantos escuros da alma, onde se agacham como crianças assustadas num porão antigo, esperando um colo que nunca vem, um gesto que não desce as escadas do tempo.
Leia maisNão se trata de dor recente. Ao contrário, são dores que, de tão antigas, não envelhecem. Ganham rugas de espera, calos de silêncio, sombras que se alongam até sobre os dias claros, como se até o sol respeitasse aquilo que em nós nunca se deixa iluminar. São lágrimas que morreram no ventre dos olhos, sufocadas por esse orgulho que muitas vezes é só uma forma disfarçada de abandono. Ou por essa solidão que se infiltra nos poros, transformando-nos em desertos ambulantes.
Quantas vezes estivemos à beira do abismo de um soluço e fomos obrigados a recuar? Quantas vezes mantivemos a espinha ereta quando tudo em nós implorava por curvatura? Mas o mundo, tão perito em exigir aparência, não cede espaço à vulnerabilidade. E sorrimos. Não com a alma, mas com os dentes. Enquanto os olhos, discretamente, sussurravam pedidos de socorro que ninguém ousou traduzir.
Essas lágrimas não choradas são rios represados, acumulando silêncio e tensão até que, talvez tarde demais, rompam as margens do corpo. Enquanto isso, fermentam em nós uma água escura, estagnada, onde os fantasmas se ajoelham para beber. E bebem. Em cada noite em que o travesseiro não reconhece nossos sonhos, em cada resposta educada escondendo um “estou me desfazendo”, em cada madrugada onde a alma, em vez de descansar, vaga por ruínas internas. Ficamos secos. E mesmo assim, chovemos por dentro.
Há ausências que recusam consolo. São como casas incendiadas à noite, invisíveis à multidão. Permanecem imóveis, com os móveis carbonizados no lugar e o retrato de família ainda pendurado na parede enegrecida. Aprende-se, com o tempo, a circular entre os escombros com naturalidade. Aprende-se até a sorrir. E, por fim, a viver como se nada estivesse em cinzas.
Essas ausências seguem conosco. Sentam-se ao nosso lado no café da manhã. Habitam os segundos entre uma frase e outra. Respiram por trás de nós quando fechamos os olhos. São os nomes que evitamos pronunciar, mas que ainda vibram nas dobras da pele, nos cantos da alma, como ecos de algo que nunca deixou de existir.
E então seguimos. Como quem dança em silêncio sobre cacos de vidro. Como quem beija retratos amarelados pelo tempo. Como quem abraça o que nunca teve forma.
Talvez sejamos todos colecionadores dessas lágrimas não caídas. Dessas dores que não gritam, mas queimam como vela acesa em capela esquecida. E talvez, num tempo que não pertence ao relógio, essas lágrimas estejam guardadas como relíquias tristes, esperando a hora de escorrer. Uma por uma. Devagar. Como uma chuva antiga reencontrando a terra. Em paz.
Até lá, escrevemos. Porque escrever é a forma mais humana, mais secreta e mais bela de chorar.
*Jornalista, poeta, escritor e membro da Academia Pernambucana de Letras
Leia menos