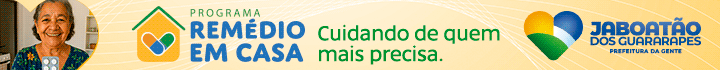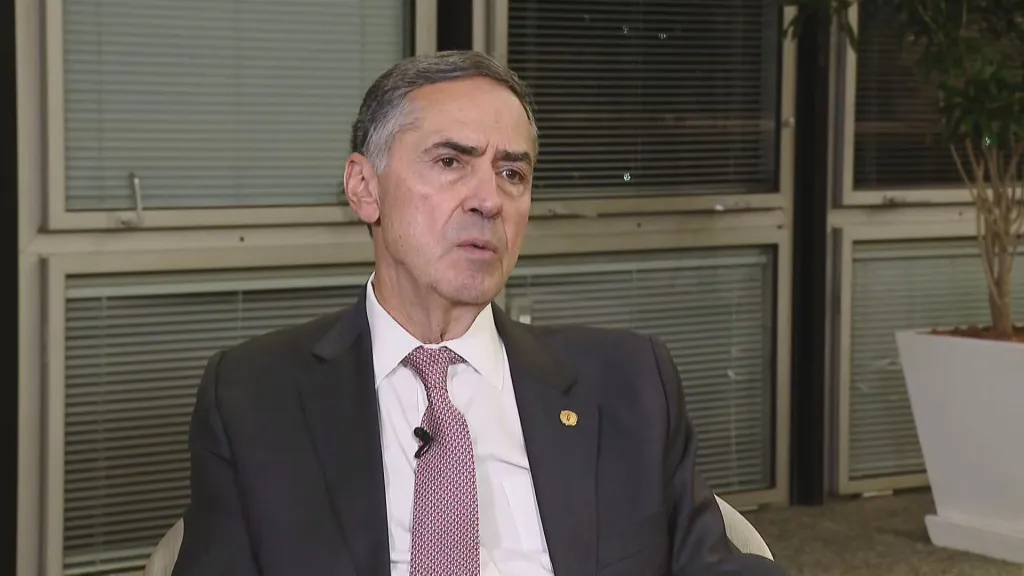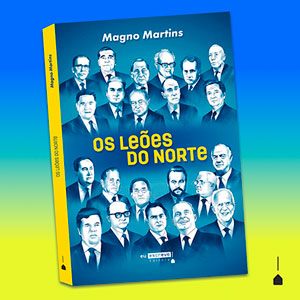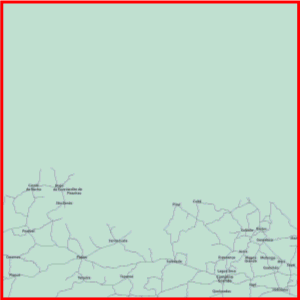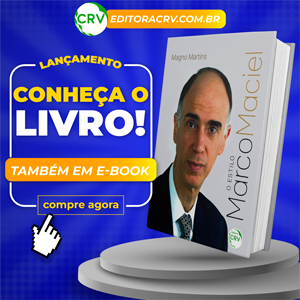Ora, está tudo bem, nós simplesmente fomos dar uma volta com a brisa, amiga brisa.
O aniversário foi tão bom que passeamos com a brisa, com o sol, com a lua, com as estrelas, com as águas do mar e dos açudes de nossa infância.
Aqueles momentos não foram provocados por ácido nenhum, foi a mão de Deus que nos conduziu por esses caminhos da felicidade. Ausentamo-nos, mas voltamos inteiros e felizes para o grande Amarelinho.
Ora, está tudo bem se você vive a vida que quer, foi assim que nos sentimos. O nome disso é graça divina.
Você pode ficar sentado esperando o telefone tocar: assinamos um documento de rebeldia e recusamos tal papel de conformistas preguiçosos. Mesmo que, quando o telefone toque, seja para ganharmos um diamante entregue pelo Mercado Livre.
Nossas almas pernambucanas, de irredentismo, de guerra, são muito mais do que arrancar uma botija com a alma penada assombrando a gente até o fim.
Nessa volta que demos com a brisa, descobrimos que, se as situações apertam, o antídoto para esse veneno é um grande amor, cada um com o seu, e nós os temos: nossas companhias e anjos aqui na terra.
O nome do meu é Mary, Meirinha, Meiroca, Maria Bonita. Sua beleza e solidariedade são tantas que me incendeiam e me encandeiam. Vocês sabem o significado de um homem enlouquecido pelo amor, todos vocês sabem! Quando eu casei, dei de presente a ela um rifle Winchester. Arrependimento não mata, só que hoje eu daria a ela uma viagem a Paris com os cartões liberados. O rifle, ainda hoje, me trava.
O nome do anjo de Sousa, o aniversariante, é Zete, esplendoroso anjo francês cheio de cuidados, porque cuidado de anjo é assim. O anjo Zete é de uma elegância formal e espiritual que acanha a gente, pobres mortais aqui na terra. Quando Dona Zete vai espiar o amigo Sousa na sua diálise, todos nós nos sentimos representados e sentimos Deus, um bom sal da terra em nossas vidas.
O anjo de Cleiton Rafael é uma linda morena chamada Aline, que acaba de dar a ele o maior presente que um homem pode receber: uma linda filhinha, anjo Carolzinha, que gosta muito de pé de galinha. As duas morenas são a vida aqui na terra do compadre, amigo de todos e solidário com todos. Você está intimado a trazer suas morenas da próxima vez. Devo dizer que a comadre Aline teve dúvida da participação do Cleiton Rafael no aniversário, mas o seu bondoso coração falou mais alto. Sem o compadre Cleiton os aniversários não valem.
Antônio Barreto, Barretinho querido, tem um anjo chamado Laurinete. Laurinete desceu do sétimo céu para olhar por ele, e leva esse queridíssimo amigo na alma, nos braços e no coração. Todos os seus passos são seguidos/perseguidos por esse ser diáfano e de luz. Dá-lhe Barretito. Laurinete é um grande anjo com patente militar, se não me engano coronel. A luz que Barretinho emanou deixou todos nós cegos e cientes da presença de Deus no ambiente.
Carlinhos, Canuto, Botelho, esse homem deve ter um exército de anjos que cuida dele. A alegria, a disposição, não são atitudes humanas exercidas como ele exerce. Esse homem vale por dez bons senadores da República dos nossos sonhos. Ele tem dez anjos da guarda e não mostra à gente, que tudo não pode ser mostrado. A NASA tem que vir para estudar Carlinhos, que de cadeirante passou a próspero empresário do agronegócio em Gravatá, para onde devemos ir um dia. No caso de Carlinhos, a NASA vai descobrir o óbvio: Jesus, Maria e José existem e diariamente realizam milagres, não vê quem não quer. Carlinhos, cuidado com as suas terras. Fale com Raul e o deputado Carlos Lapa.
Precisamos falar dos ausentes:
Raul Souza é general, um dos homens mais assertivos que conheci, talvez em razão de suas raízes pajeuzeiras. Ele é muito parecido com o big empreendedor Eduardo de Queiroz Monteiro — um amigo e irmão que a vida me deu de presente — nas soluções, ou insoluções, que a vida é assim. Gosto de todos, todos gostamos do general Raul, nosso comandante-chefe. Já disse à minha mulher: se eu tiver um piripaque mais sério onde faço o tratamento, quero Raul comigo. Raul é nossa reserva de qualidade.
Dona Zete matou a charada para a sua ausência: sua Carol é tão linda que ele não quer mostrá-la ao povo. “E eu lá sou doido de estar com minha linda mulher por aí, seus cabras safados”, diria ele.
O deputado Carlos Lapa é outro amigo querido e presente, conosco há mais de duzentos anos. Os mandatos políticos dão uma maturidade gigantesca e ele nos tem na palma da mão e no seu generosíssimo coração. Este homem é só coração e humanidade, que sangram nas suas honradas mãos.
Como tudo não é perfeito, Raul disse que ele, nas suas visitas à Carpina, mexe demais com o sexo feminino, as cercas e os varais o saúdam como o Robert Redford da Mata Norte de Pernambuco! Deputado, pise devagar! A senhora sua esposa, igual a Mary, comprou uma Winchester de estimação, vôte!
Cleiton também disse que a fortuna do amigo Lapa é igual à do povo do Oriente, que ele vigia seus terrenos de helicóptero, na praia de Cabo Branco. O homem é riquíssimo, vamos chegar nele. A riqueza merece reverência e chaleirismo, vamos pra cima do deputado Carlos Lapa, este sheik.
Registro a passagem na festa de Maurício Duarte, jovem sogro do meu filho Tiago. Interagiu com todos e todos gostaram dele.
A canção End of the Line, de Bob Dylan/George Harrison, serviu de mote, com frases e sentido para o que escrevi, graças a Deus.
Leia menos