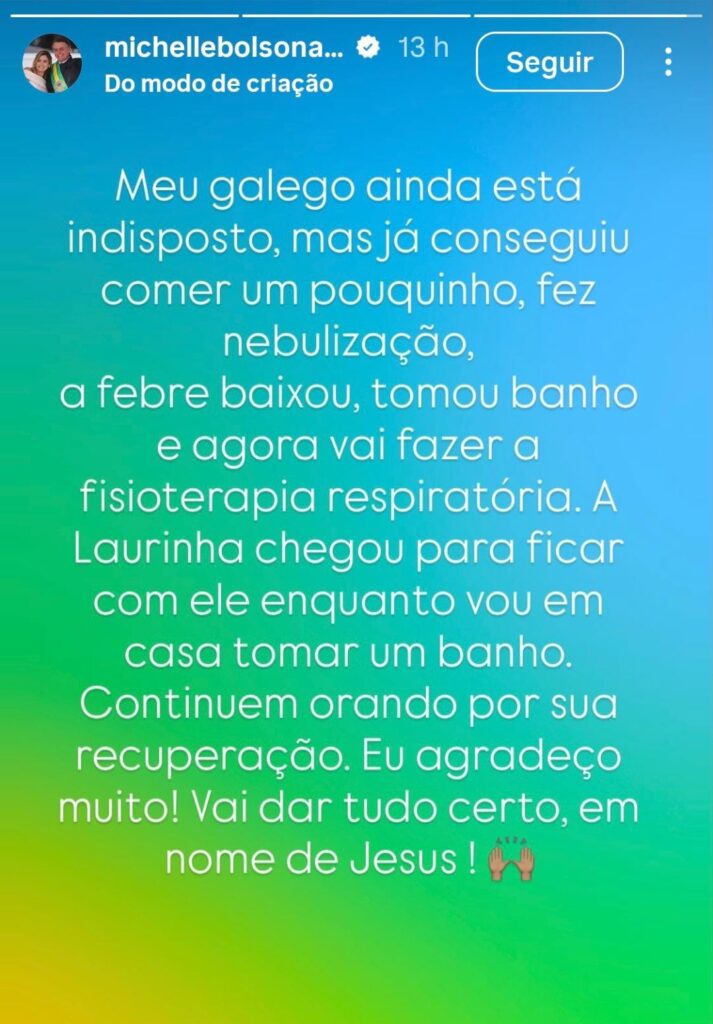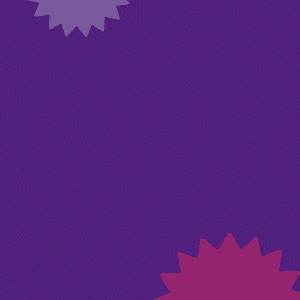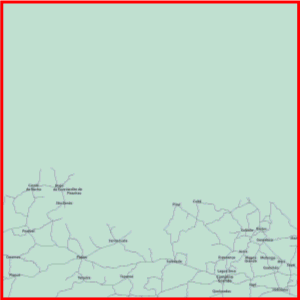Conquistas
Com o resultado da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, “O Agente Secreto” encerra com toda a pompa e circunstância uma trajetória que desde o seu início foi marcada por aclamações. Já na première mundial — que ocorreu no Festival de Cannes, na França, em maio do ano passado — o filme conquistou dois dos prêmios oferecidos pelo evento e, de lá para cá, abocanhou estatuetas nas mais prestigiadas premiações internacionais, como o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards.
Luiz Joaquim, crítico e curador de cinema, atribui parte do sucesso do filme fora do território nacional ao “gigantesco” trabalho profissional de marketing e às várias articulações internacionais encabeçadas por Kleber e Emilie Lesclaux, produtora da obra. A coprodução com parceiros de outros países — neste caso, França, Holanda e Alemanha — é um modelo que a dupla adotou desde os primeiros longas do diretor.
“Eles vêm tecendo uma rede de conexões muito extensa e influente. Cannes está na vida de Kleber há décadas, primeiro como jornalista e, desde 2006, como realizador. Isso é importante porque o festival sempre foi muito relevante, mas especialmente nos últimos 15 anos se tornou referência inclusive para o Oscar, que é a maior vitrine do cinema no mundo”, explica Luiz Joaquim.
O burburinho em Cannes aproximou “O Agente Secreto” de um importante parceiro: a Neon. “Essa distribuidora norte-americana, que representa filmes independentes que já passaram pelo Oscar, tem articulado um circuito de promoção nos Estados Unidos com gente influente, desde o final do ano passado”, detalha o crítico.
O Recife
Ambientado no Recife, o longa recria a atmosfera da cidade em 1977 com a ajuda de técnicas avançadas de CGI (imagens geradas por computador) e do minucioso trabalho de direção de arte conduzido por Thales Junqueira. Cenários construídos do zero, locações reais, carros antigos e caracterizações fiéis ao período, além de uma fotografia de cores saturadas e vibrantes, emolduram a Capital pernambucana — especialmente o Centro — como personagem do thriller.
Em entrevista concedida à Folha de Pernambuco, Kleber Mendonça Filho falou sobre a atenção dada ao Recife no filme. “Cineastas do mundo inteiro fazem filmes nas suas cidades e eu acho a coisa mais natural do mundo. Eu já tinha usado o Recife em ‘O Som ao Redor’, ‘Aquarius’ e ‘Retratos Fantasmas’, mas com ‘O Agente Secreto’ a repercussão foi maior. A cada filme as pessoas veem mais a cidade e isso é uma coisa muito boa”, pontua.
Ao levar sua cidade de origem para o enredo, Kleber se apropria de códigos e temas locais, como os blocos de Carnaval, os cinemas de rua e a excêntrica lenda urbana da Perna Cabeluda. Essas peculiaridades parecem ter sido abraçadas e até celebradas pela crítica estrangeira, que desde o início tem destacado a identidade cultural como uma âncora do filme.
Universal
Para o potiguar Marcio Sallem, professor de cinema e crítico votante do Critics Choice Awards, um dos trunfos do longa é conseguir abordar temas universais a partir de um recorte local. “É um filme eminentemente humano. Fala sobre relação entre pai e filho, opressão e da importância da comunidade para sobrevivermos a momentos difíceis na história. Tudo isso é muito universal. Ao mesmo tempo, a especificidade em si também é um atrativo. Afinal, o cinema é um caminho para conhecer outras culturas”, defende.
O elenco de “O Agente Secreto” é majoritariamente formado por atores nordestinos, vindos de diferentes estados da região, incluindo Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Para além do protagonismo de Wagner Moura, o filme se desenvolve a partir de personagens secundários que, de tão carismáticos, acabam roubando a cena em determinados momentos.
“É um filme sobre agentes duplos: pessoas que precisam esconder as suas identidades para sobreviver durante um período. Todos eles guardam histórias pregressas que cruzam a trajetória do protagonista, mas que não dependem dele e vão continuar existindo nas nossas cabeças. Isso cria um senso de mistério muito atraente. Talvez, o melhor exemplo seja a Dona Sebastiana (Tânia Maria), que faz a gente terminar o filme querendo saber quais foram as três coisas que ela fez na Itália e nunca vai contar”, aponta Marcio.
Histórico
Kleber Mendonça Filho já “bateu na trave” do Oscar algumas vezes. “O Som ao Redor” (2012) e “Retratos Fantasmas” (2023) chegaram a ser escolhidos para representar o Brasil, mas não foram indicados. Para Luiz Joaquim, as nomeações vêm em um momento de visível amadurecimento do cinema produzido pelo cineasta. Ao mesmo tempo, “O Agente Secreto” guarda pontos em comum com as obras anteriores do cineasta.
“Um elemento muito presente em todos os filmes de Kleber é o humor muito irônico. Do ponto de vista estético, o zoom é um elemento narrativo usado para provocar tensão e estimular o suspense. O tempo entre uma situação e outra é muito bem trabalhado para criar expectativa no público. Outro ponto marcante é a forte indignação social. É um cinema claramente interessado em dar força aos invisíveis da sociedade”, analisa Luiz.
A expectativa dos brasileiros é de que os envelopes lidos no Teatro Dolby neste domingo tragam respostas favoráveis para o país. Difícil é prever o que os 11 mil membros votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas devem decidir. Entre as quatro categorias que disputa, “O Agente Secreto” aparece com mais chances em uma delas, mas a disputa promete ser acirrada.
Chances
Luiz Joaquim e Marcio Sallem concordam que, na categoria de Melhor Filme, a possibilidade do filme brasileiro levar a melhor é praticamente nula. “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson, aparece como favorito. O único filme de língua não inglesa a levar essa estatueta em 97 edições do Oscar foi o sul-coreano “Parasita”, em 2019.
Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator, categoria que tinha até bem pouco tempo o jovem Timothée Chalamet como aposta principal. Os deslizes na campanha do astro de “Marty Supreme”, no entanto, podem levá-lo a perder o prêmio para Michael B. Jordan, de “Pecadores”, que já conquistou o prêmio do sindicato de atores dos Estados Unidos.
A categoria de Direção de Elenco é uma novidade do Oscar neste ano, o que torna seu resultado mais imprevisível. A Variety, revista especializada no mercado de entretenimento, aponta “Pecadores” como o vencedor mais provável na nova categoria. Na mesma lista de apostas, “O Agente Secreto” surge como favorito para Melhor Filme Internacional, tendo como rival maior o norueguês “Valor Sentimental”, que venceu o BAFTA deste ano.
Leia menos