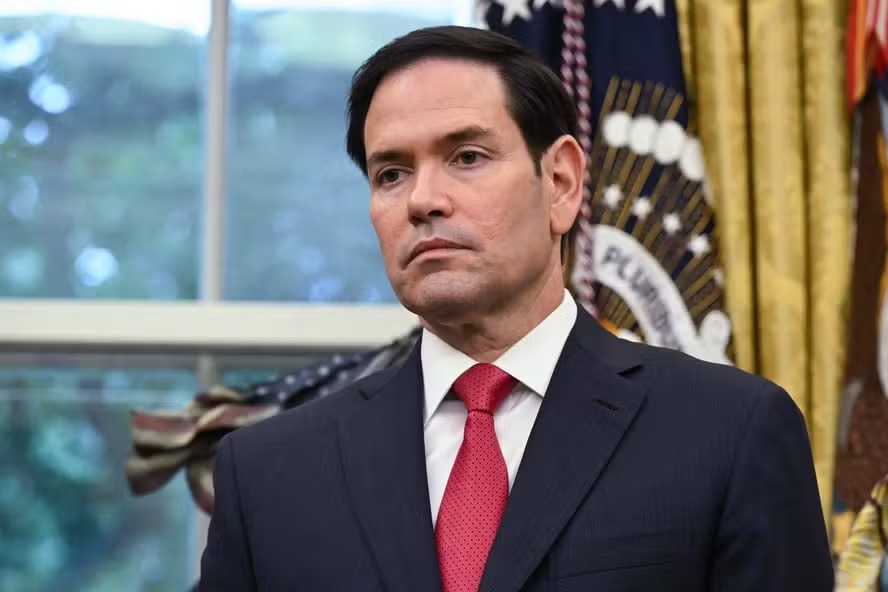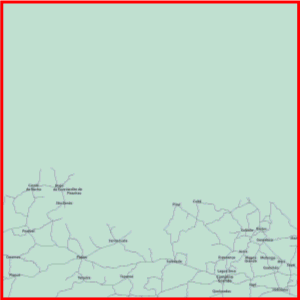Por Flávio Chaves*
Carpina amanhece hoje com a pompa de suas 97 velas acesas, celebrando oficialmente sua emancipação política, declarada pela Lei Estadual nº 1.931, de 11 de setembro de 1928, quando a antiga Chã do Carpina, já rebatizada Floresta dos Leões, libertou-se do domínio de Paudalho e Nazaré da Mata para assumir o destino com as próprias mãos.
Nascia o município, instalado no ano seguinte, como fruto de uma luta coletiva, marcada por nomes que jamais devem ser esquecidos: Armando Gayoso, o deputado que empurrou a história no papel; Francisco José Chateaubriand, que cunhou a identidade simbólica; Odair Santana, Antônio Bezerra de Menezes, entre tantos outros herdeiros da coragem que ergueram o berço de uma cidade que não queria ser apêndice de ninguém.
E, no entanto, quase cem anos depois, Carpina parece devolvida à casa de onde lutou para sair. Não por decreto, mas por ausência. Por um silêncio cívico que permitiu que a governança de hoje fosse entregue nas mãos de políticos paudalhenses, homens que não conhecem a alma dessa terra, que não carregam na fala o sotaque da memória, que não pisaram descalços no chão quente da praça Joaquim Nabuco nem ouviram seus avós contar as histórias da ferrovia, da cana, da feira, da floresta.
Leia mais
O hino da cidade, em seu entusiasmo fundacional, soa hoje como uma peça irônica. “Ontem escrava embora, hoje liberta sou” , entoa o verso com voz altiva, mas o eco nos devolve uma dúvida inquieta. Libertos de quem, se hoje somos novamente conduzidos por mãos de fora? Que liberdade é essa que não conhece o rosto dos que governa?
O progresso de Carpina não raiou por inteiro quando é gerido por estranhos afetivos, homens que veem esta terra como uma extensão de sua ambição política, não como lar, não como raiz, não como semente.
Seria cômico, não fosse trágico, que após quase um século de luta por autonomia, a cidade tenha sido entregue novamente à lógica de uma dominação externa, por mãos que não cultivaram a identidade carpinense, que não entendem a simbologia do nome Floresta dos Leões, que confundem liderança com tutela. Carpina não é colônia.
Não é satélite. Não é distrito. E no entanto, o que vemos? Um povo governado por ausentes históricos, por herdeiros de outra bandeira, que não têm nenhum compromisso sentimental com a construção dessa terra.
Como se sentiriam hoje os que lutaram por essa liberdade? Aqueles homens que enfrentaram a burocracia da província, os que reuniram assinaturas, escreveram abaixo-assinados, articularam com deputados e autoridades, que ergueram esse município com as próprias mãos, como se esculpe uma ideia no barro?
Sentiriam vergonha, talvez. Sentiriam revolta. Ou um tipo mais fino de mágoa: a de ver que sua luta foi esquecida, e que as instituições que nasceram para preservar a autonomia agora se calam diante da presença de forasteiros no poder. Seriam esses os mesmos que sonharam o hino que hoje entoamos?
O mesmo que, com esperança sincera, proclamava o nascimento da justiça, da liberdade, da esperança, depois de um tempo de escravidão? Há ironias que a história escreve com tinta cruel. A maior delas talvez seja esta: após 97 anos de independência, Carpina volta a ser governada pelos mesmos senhores do passado, sem que um só grito ecoe com a força dos leões.
Dói ao coração perceber que os destinos de Carpina estejam, hoje, nas mãos de quem um dia a escravizou, não apenas politicamente, mas simbolicamente, negando-lhe o direito de sonhar com os próprios olhos.
Onde estão agora os ecos das serenatas na Rua da Igreja, os passos apressados de quem descia da Estação Ferroviária com a marmita de alumínio, os sorrisos largos dos domingos no Clube dos Lenhadores, Espanadores e Colonial?
Onde ecoam os gritos da juventude nas arquibancadas do Estádio Oswaldo Freire, o brilho das noites dando voltas pela cidade para de soslaio olhar para a sua paquera ou amor platônico, as vozes encantadas dos alunos do Colégio Santa Cruz e da Escola Salesiana e do Josê de Lima Júnior?
Em que canto se esconderam as cores dos carnavais que tingiam as ruas de canções e gritos embriagados de sonhos e de amores. Era frevo dentro do coração dos foliões, e os estandartes que arrepiavam o frevo nas avenidas? Como esquecer as missas na Matriz de São José, o alarido das feiras no centro, os abraços nas calçadas da Praça Joaquim Nabuco, onde cada banco era um ponto de encontro e cada esquina, uma memória viva?
Carpina é feita de gente que tem nome, cheiro, afeto e lembrança. Gente como Dona Tila, como Seu Pirulito, como mestre Solon do mamulengo, senhor Marcolino do fandango, doutor Gentil, como tantos outros que, mesmo sem mandatos, governavam com ternura o cotidiano dessa terra.
E é essa Carpina profunda, amorosa e invisível que hoje chora em silêncio, ao ver que os que a comandam não sabem pronunciar sua alma, não reconhecem seus fantasmas doces, não carregam na fala o barro antigo do qual essa cidade foi moldada.
Ainda assim, há tempo. O tempo de despertar não é só o da comemoração, mas da consciência. Que esta data, 11 de setembro, não seja apenas número e fanfarra, mas um chamado à memória e à dignidade.
Que os filhos desta terra reconheçam que liberdade se cuida, se exerce, se protege. E que a Floresta dos Leões, ainda que silenciada por um instante, segue viva na lembrança de seus verdadeiros guardiões , os que sentem Carpina não como território, mas como sangue, chão, história.
Porque não há hino, nem data, nem governador que resista ao grito de um povo que decide, uma vez mais, não ser governado por quem nunca o amou.
*Jornalista, poeta, escritor e membro da Academia Pernambucana de Letras
Leia menos