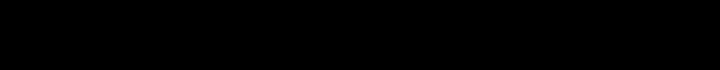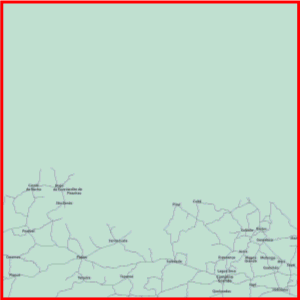Por Flávio Chaves*
Há ausências que não chegam com alarde. Elas apenas começam a ocupar o espaço do que antes era presença. É como uma flor que se desprende da varanda e cai, não por desamor, nem por tempestade, mas porque chegou sua hora de ir. A gente não vê quando ela solta o caule. Só nota quando vai regar e o vaso está vazio. E então começa o luto: não daquele que grita, mas daquele que sussurra dentro de nós por muito tempo.
Perder para sempre não é um ato único. É uma sucessão de descobertas do que já não está. É quando, sem querer, você prepara duas xícaras de café. Quando escuta uma música e sorri, para depois chorar. Quando vê um vestido no armário e se pergunta por que ele ainda está ali, como um fantasma de tecido.
Leia maisPablo Neruda escreveu: “Posso escrever os versos mais tristes esta noite. Escrever, por exemplo: ‘A noite está estrelada, e tremem, azuis, os astros, ao longe.’”, e há noites em que parece que o mundo inteiro ecoa essa dor. Porque a tristeza das estrelas não é a escuridão, é o brilho que continua mesmo depois que algumas já morreram. Como certas pessoas. Como certos amores. Como certas vozes.
Cecília Meireles dizia que “a vida só é possível reinventada”. E é verdade: perder para sempre exige reinvenção. Não se trata de esquecer, ninguém esquece o que foi raiz. Trata-se de reorganizar o amor dentro da ausência. De fazer dele um altar silencioso no coração. E como dói.
Rainer Maria Rilke nos lembrava: “A única pátria que nos resta é a infância.” Talvez por isso a perda doa tanto, porque ela nos arranca da pátria. Ela nos desterra. Quem perde alguém que amava perde também um pedaço do chão onde firmava os pés. E então a vida passa a ser esse caminhar vacilante, tentando se equilibrar entre lembranças e rotinas, entre lágrimas escondidas e sorrisos fingidos.
Clarice Lispector disse com a coragem dos que sentem: “A saudade é um pouco como fome. Só passa quando se come a presença.” Mas e quando a presença não vem mais? E quando o outro virou pó, sombra, vento, nome? A fome vira costume. E o costume vira parte de quem somos. Como o braço que já não temos, mas que ainda coça. Como a voz que já não ouvimos, mas que ainda responde quando a chamamos no silêncio.
Drummond, em sua serenidade triste, escreveu: “A dor é inevitável. O sofrimento é opcional.” Mas há dores que não permitem escolha. Há dores que nos tornam quem somos. Que nos moldam, que nos quebram, que nos ensinam a amar o que resta. E a flor caída da varanda é só uma imagem. A verdade é que todos temos alguém que se foi. Todos carregamos um nome tatuado em silêncio. Todos, mesmo os que sorriem, guardam um pouco da noite dentro de si.
E sim, a vida segue. As luzes continuam acendendo. As estações mudam. Os filhos crescem. Os amigos envelhecem. Os aniversários chegam, mesmo sem bolo, mesmo sem parabéns. E a gente aprende a caminhar com a ausência — não como quem supera, mas como quem aceita. Como quem aprende a amar o que já não está.
A flor que cai da varanda nunca volta ao caule. Mas, um dia, quando você menos esperar, ela nascerá de novo em outro canto, talvez no jardim da memória, talvez no sonho de uma madrugada calma. E você vai reconhecê-la. Não porque é igual, mas porque carrega o mesmo perfume.
Perder para sempre é um ato de amor que continua mesmo sem reciprocidade. É continuar escrevendo cartas que nunca terão resposta. É seguir olhando para o céu e dizendo: “Se estiver me ouvindo, saiba que ainda te amo.” E, no fundo, acreditar que o amor verdadeiro, como a luz das estrelas, chega mesmo quando parece tarde demais.
*Jornalista, poeta, escritor e membro da Academia Pernambucana de Letras
Leia menos