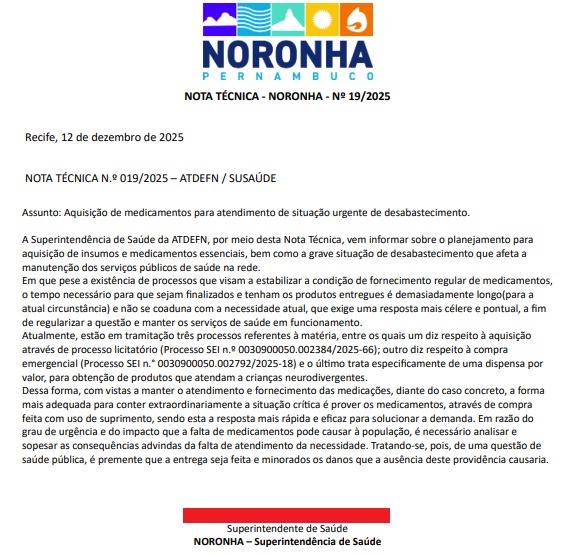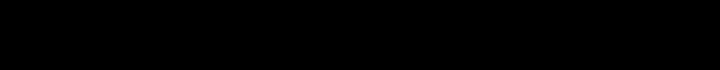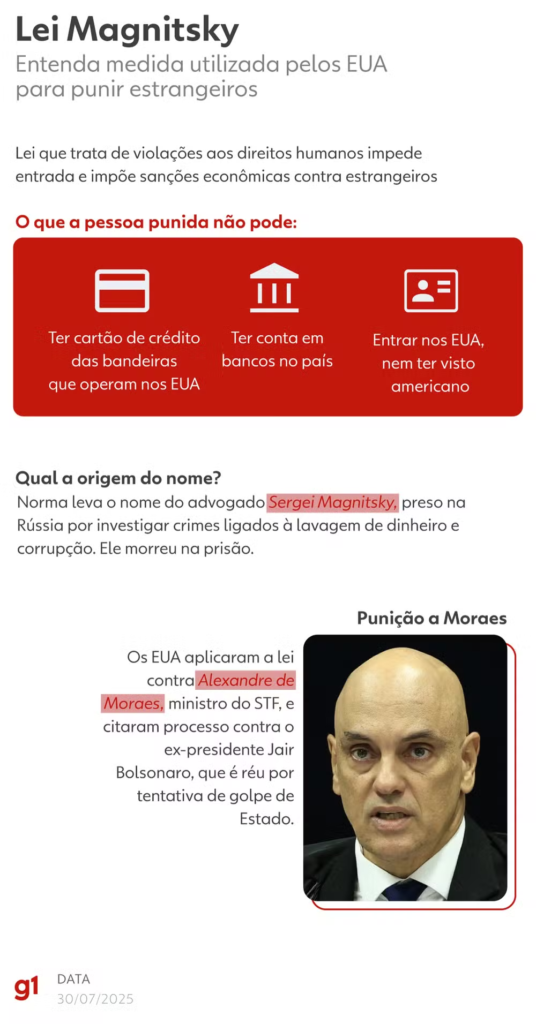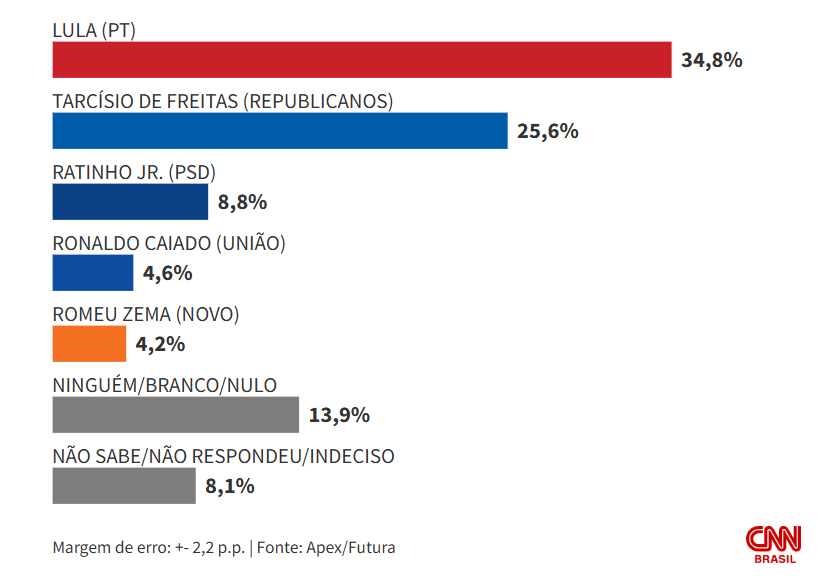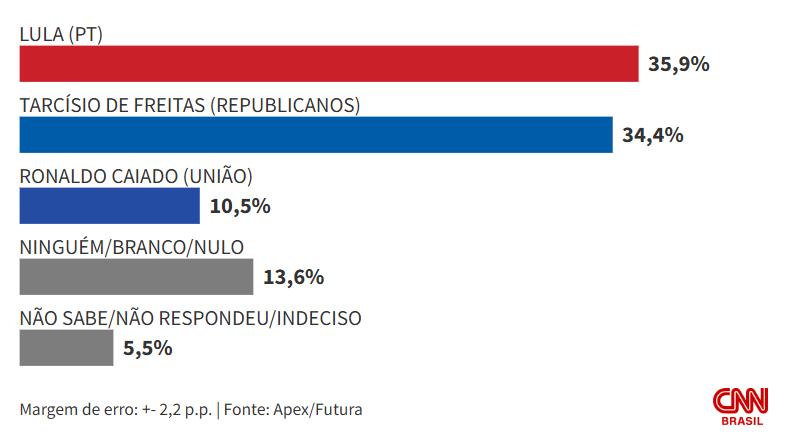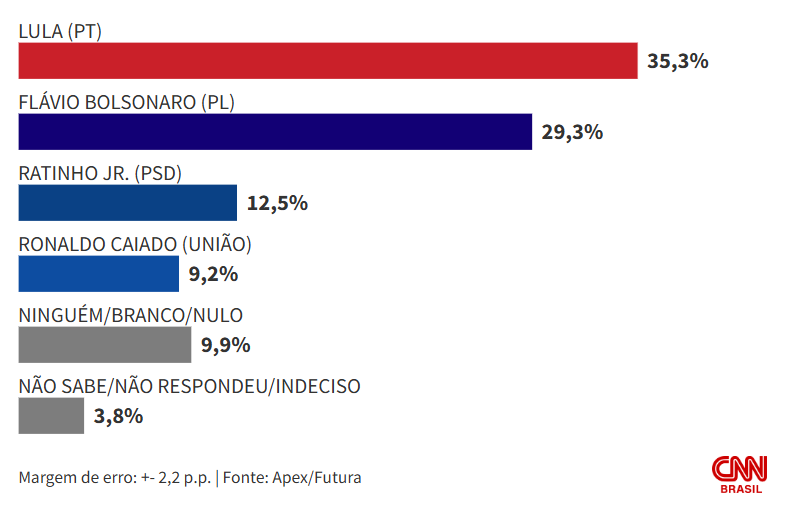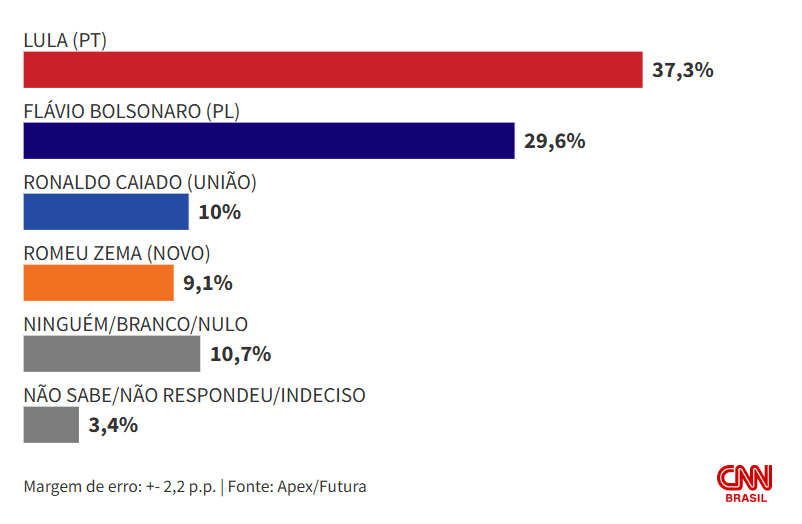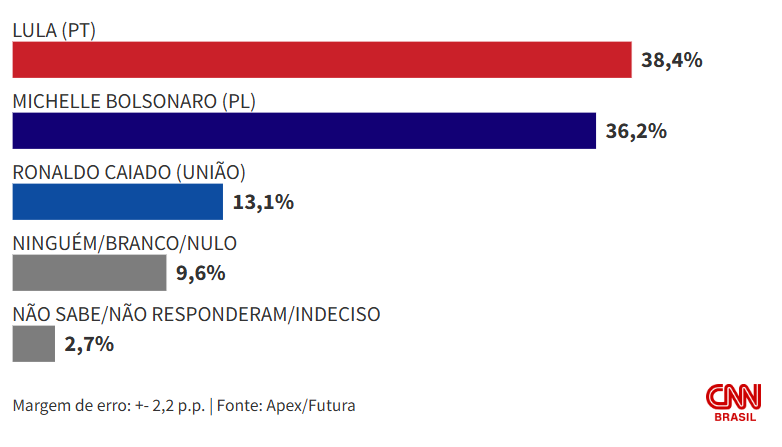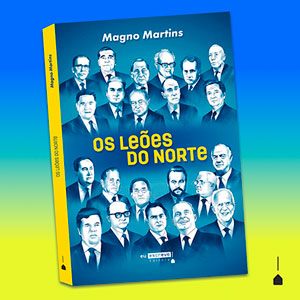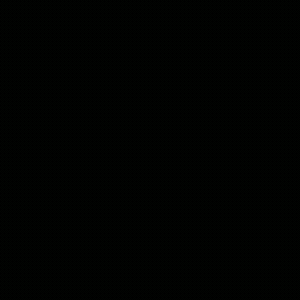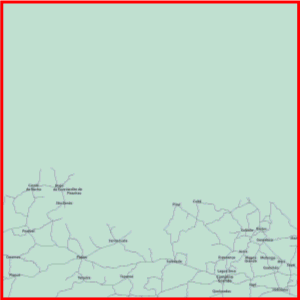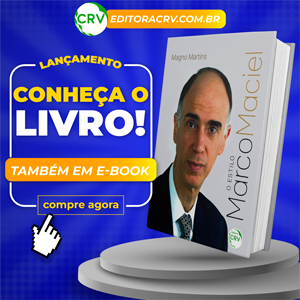O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino afirmou que há “fortes indícios” de que Mariângela Fialek, ex-assessora do deputado Arthur Lira (PP-AL), operava diretamente o encaminhamento de emendas parlamentares supostamente desviadas do chamado Orçamento Secreto, atuando sob ordens do então presidente da Câmara dos Deputados. Fialek foi alvo de uma operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensões nesta sexta-feira. Lira não é alvo das investigações.
Segundo Dino, depoimentos de parlamentares colhidos pela Polícia Federal revela que Fialek “atua diretamente na operacionalização do encaminhamento de emendas, efetuando-as supostamente em nome do ex-presidente da Câmara”. As informações são do jornal O GLOBO.
Leia mais
“O exame dos depoimentos transcritos revela que a Representada atua diretamente na operacionalização do encaminhamento de emendas, efetuando-as supostamente em nome do ex-Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Arthur Lira. Constatou-se, ainda, que, mesmo após a alteração na Presidência da Casa, ela permaneceu no exercício da função. Ressalte-se, ademais, que a Representada assumiu tal encargo sem a anuência do Presidente da respectiva Comissão, Deputado José Rocha, por determinação direta do então Presidente da Câmara”, diz o ministro do STF.
O ministro destacou ainda que “os elementos probatórios extraídos dos depoimentos testemunhais encontram respaldo nos dados telemáticos, convergindo todos para a conclusão de que a Representada exerce função de coordenação da destinação das emendas parlamentares”.
Em parecer, o PGR defendeu medidas cautelares contra Fialek, afirmando que a representação está “encorpada com significativos elementos”, incluindo depoimentos e análises policiais que sugerem sua atuação ilícita no controle das indicações de emendas desviadas.
Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, Fialek “desponta exercer o controle de indicações desviadas de emendas decorrentes do orçamento secreto” em benefício de uma organização criminosa voltada à prática de desvios funcionais e crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional.
Mariângela Fialek foi alvo da Operação Transparência, deflagrada pela Polícia Federal com autorização do ministro Flávio Dino, do STF. Segundo a ação, ela foi responsável pela liberação de emendas parlamentares durante a presidência de Lira na Câmara, exercendo papel central no esquema de distribuição de recursos do chamado “orçamento secreto”.
A operação, que aponta indícios de desvios milionários por meio do controle dessas emendas, investiga a possível atuação de Fialek em conjunto com uma organização criminosa que direcionava recursos públicos de forma irregular. O esquema envolveria a alocação de verbas sem transparência, com uso do mecanismo de emendas de relator, cujos beneficiários e responsáveis não eram identificáveis.
Fialek, com formação em Direito e quase duas décadas de experiência na assessoria legislativa, foi responsável direta pela interlocução entre parlamentares e o presidente da Câmara para atender pedidos de liberação de verba. Durante a gestão de Lira, ela acumulou, inclusive, cargos nos conselhos fiscais da Codevasf e da Caixa Econômica Federal, ambas ligadas a nomes indicados pelo centrão.
A investigação tenta rastrear como essas emendas, originalmente destinadas à execução de políticas públicas locais, teriam sido desviadas por um grupo que captava parte dos valores em benefício próprio, configurando vantagem ilícita e enriquecimento indevido.
Até o momento, tanto Mariângela Fialek quanto Arthur Lira não divulgaram posicionamento oficial sobre o caso.
Leia menos