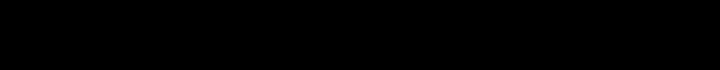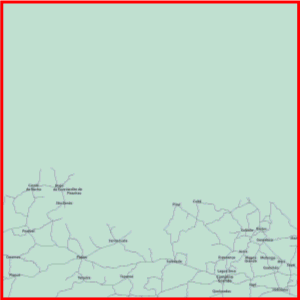Quase 4 meses antes, em 27 de novembro de 1935, Prestes e seus companheiros do Partido Comunista lideraram um levante. A revolta começou em Natal (RN), depois explodiu no Recife (PE) e, por fim, chegou ao Rio, no 3º Regimento de Infantaria, na Praia Vermelha.
Em pleno governo Vargas, aquela ousadia iria custar muito caro. A tentativa de um golpe de Estado, com um motim no Exército, foi reprimida com violência. Há 90 anos, o Brasil era um país polarizado, com comunistas brigando com fascistas e um ditador distribuindo bordoadas em quem ousasse desafiá-lo.
A história é contada pelos vencedores. Na maioria das vezes. Prestes foi pintado pelos jornais como uma espécie de demônio vermelho, cujos companheiros revolucionários mataram à traição soldados do 3º Regimento enquanto dormiam. Esta era a narrativa.
O Brasil de 1935 vivera sucessivos banhos de sangue, a começar pela chacina da praia de Copacabana quando em 1922 tenentes tomaram o Forte do Posto 6, saíram armados e a maioria morreu fuzilada pelas tropas do presidente Afonso Pena. Prestes escapou do confronto porque estava com tifo.
Nem deu tempo de as feridas cicatrizarem. Em 1923, os gaúchos fizeram uma guerra civil, que começou em janeiro e terminou em dezembro. Em 1924, uma nova revolta explodiu em São Paulo, comandada pelo general Isidoro Dias Lopes e o major Miguel Costa. O presidente Arthur Bernardes mandou bombardear São Paulo, deixando parte da cidade arrasada.
Miguel Costa fugiu com seus companheiros e se uniu a Prestes, que estava no Paraná, formando a coluna Prestes-Miguel Costa com 1.500 homens, que percorreu 25.000 km pelo interior do país durante 2 anos e 5 meses. No fim da linha, depois de mais da metade dos homens morrerem de tiro, diarreia e cansaço, Prestes se refugiou na Bolívia e Costa, na Argentina.
O Brasil polarizado seguia de pé. Desta vez, eram gaúchos contra paulistas na Revolução de 1930. Getúlio liderou o golpe de Estado que apeou Washington Luiz do poder, inaugurando um novo governo. Como os outros golpes, sempre havia armas, militares, tropas e autoridades presas. Foi assim em novembro de 1889, quando Teodoro da Fonseca derrubou o Império, e assim seria até 31 de março de 1964, quando os militares marcharam pela Rio-Juiz de Fora e depuseram Jango.
O cenário foi o mesmo quando, 2 anos depois de Getúlio tomar o poder, São Paulo foi à luta, mobilizou seu próprio Exército e um novo banho de sangue varreu o Brasil. Era a Revolução Constitucionalista de 1932.
Passados 90 anos da revolta ou intentona comunista, o Brasil continua dividido pela mesma polarização. O espírito de confronto segue igual e o que mudou foram as tecnologias. No início do século passado, os jornais, o rádio e o telégrafo eram os principais meios de comunicação. Hoje, passados 100 anos, as redes sociais e a internet fazem o serviço e são ao mesmo tempo o campo de batalha dos opostos.
Aquele ano de 1935 terminou com um capitão fugindo para escapar da polícia comandada por outro capitão. Prestes usava toda sua astúcia para driblar Felinto Muller. Nenhum deles era santo. Prestes era um dos comandantes comunistas e tinha conseguido apoio da então União Soviética para o levante, vendendo o Brasil como um país caindo de maduro para a revolução proletária. Não deu certo. Prestes perdeu a guerra e a liberdade.
A consequência mais nefasta da intentona comunista foi a criação do Tribunal de Segurança Nacional pelo governo Vargas em setembro de 1936. Milhares de brasileiros foram julgados por esta Corte, uma verdadeira excrescência jurídica, onde as regras mais básicas dos direitos humanos eram solenemente ignoradas.
Depois dos comunistas de 1935, vieram os integralistas de 1938, que cercaram o Palácio Guanabara e tentaram matar Getúlio. Todos foram parar naquele Tribunal nefasto.
O doutor Sobral Pinto, advogado de Prestes e Herry Berger, diante da situação precária dos réus, pediu a aplicação da Lei de Proteção aos Animais a fim de garantir a eles um tratamento decente.
Prestes ficou preso numa solitária. Foram 9 anos de cadeia. Um carcereiro apiedou-se e começou a passar recortes de jornais escondidos na comida. Ele lia e engolia os recortes com medo do risco de uma revista acabar com as notícias e o carcereiro.
Saiu da cadeia em 1945. Parecia um cadáver. Foi candidato ao Senado e ganhou. Os comunistas ainda elegeram uma pequena bancada com 14 deputados, entre eles Jorge Amado, Gregório Bezerra e Carlos Marighella. Menos de 2 anos depois da vitória nas urnas, o Partido Comunista teve seu registro cassado. Era a eterna polarização seguindo seu curso.
A casa da rua Honório 279 não existe mais. Ali, que já foi Meyer e Cachambi, hoje é Todos os Santos. A casa foi demolida e outra erguida no seu lugar ganhou o número 281. O passado daquele subúrbio tranquilo, com cadeiras na calçada como na letra de Vinícius de Moraes, hoje está polarizado entre a milícia e os narcos.
Como o capitão do passado, Bolsonaro, o capitão do presente, foi preso e condenado, acusado de tramar um golpe de Estado. O governo do presente se identifica com o capitão do passado, enquanto o capitão do presente é a cara do governo do passado. Dois opostos, vítimas das trapaças do tempo.
Leia menos