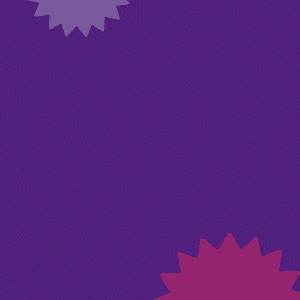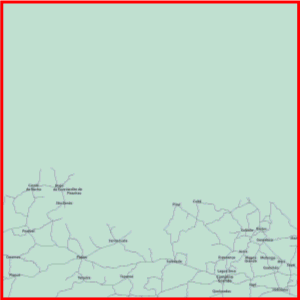Por Aldo Paes Barreto
O professor, economista e cronista Luiz Otávio Cavalcanti, sempre que usa o Facebook, torna agradável e útil acompanhar as redes sociais. Dia desses, escreveu primoroso texto lembrando uma preciosidade entre as inesquecíveis canções do nosso cancioneiro: o Cordão da Saideira, composição do mais recifense dos compositores cariocas, Edu Lobo.
Filhos de pernambucanos, Eduardo Góes Lobo, fala das coisas nossas fixadas na memória afetiva do adolescente quando ele se reunia aos primos pernambucanos, durante os veraneios em Ponta de Pedra, nas férias de fim de ano. Já iniciado no violão, filho do compositor Fernando Lobo, Edu era a voz e o violão nas serestas praieiras. Tocava, cantava e escrevia as primeiras composições.
Leia maisNa era dos festivais de músicas brasileiras, entre 1965 e 1975, Edu se tornaria a maior revelação e um dos grandes vencedores: “Chegança”, “Upa Neguinho”, “Arrastão” e a consagradora “Ponteio”. Logo depois do sucesso nacional, viajou em turnê pelas capitais da Europa e, em Paria, bateu a saudade do Recife. Foi quando compôs o “Cordão da Saideira”, regresso sentimental aos tempos de veraneio. Lembrou com nostalgia do corso, saboreou agulha frita, mungunzá, cravo e canela, serenatas praieiras e noites de luar.
O título da composição – “O Cordão da Saideira” – deve ter chegado a ele pelos parentes mais velhos, certamente integrantes das turmas que não queriam que o carnaval acabasse e sempre encontravam motivo para a última comemoração, por mais breve que fosse a saideira.
Mas, os jornais da época também denominavam de “cordão da saideira”, o humilhante desfile que a Polícia impingia aos desafortunados do carnaval, presos por algum motivo ou sem eles. Conhecidos arruaceiros, batedores de carteira, bêbados de sempre, tarados que beliscavam a bunda das mocinhas durante o corso, rapazes musculosos de pernas raspadas vestidos de normalistas ou de baianas.
Os desordeiros eram liberados na Quarta-Feira de Cinzas e um auditório a céu aberto formava-se em frente à Secretaria de Segurança, vaiando os infelizes que ganhavam a liberdade. Na Terça-Feira Gorda aquele ano, a polícia prendeu Elizeu, o doidinho de estimação do nosso bairro, por infringir a moral e os bons costumes. Contra ele já havia outras queixas: usava camisa com a imagem de Che Guevara, e perturbava o sossego público após as 22 horas. Elizeu percorria as ruas do nosso bairro espantando o silêncio durante as madrugadas sem lua, cantado sempre a mesma canção: “Velho Realejo”. Vestia a velha camisa doada, acompanhado da enferrujada gaita de boca Hering e do vira-lata que o seguia.
Logo após ser solto, Eliseu correu pelas ruas próximas em busca da liberdade perdida. E na noite do mesmo dia, voltou às serestas solitárias de única canção. Caminhava lentamente, entoando a velha melodia, talvez lembrando algum raro bom momento que teve em sua curta vida. Foi a última vez que ouvi nosso doidinho cantando com voz nasalada, a canção de sempre: “Naquele bairro afastado/onde em criança vivia/ a remoer melodias…”.
Dias depois morreu atropelado por uma lotação na avenida Beberibe. Vestia camisa com a icônica imagem dos Beatles atravessando uma rua. Próximo ao corpo, a polícia encontrou o velho realejo e afastou o vira-lata que teimava em ficar próximo ao morto.
Leia menos