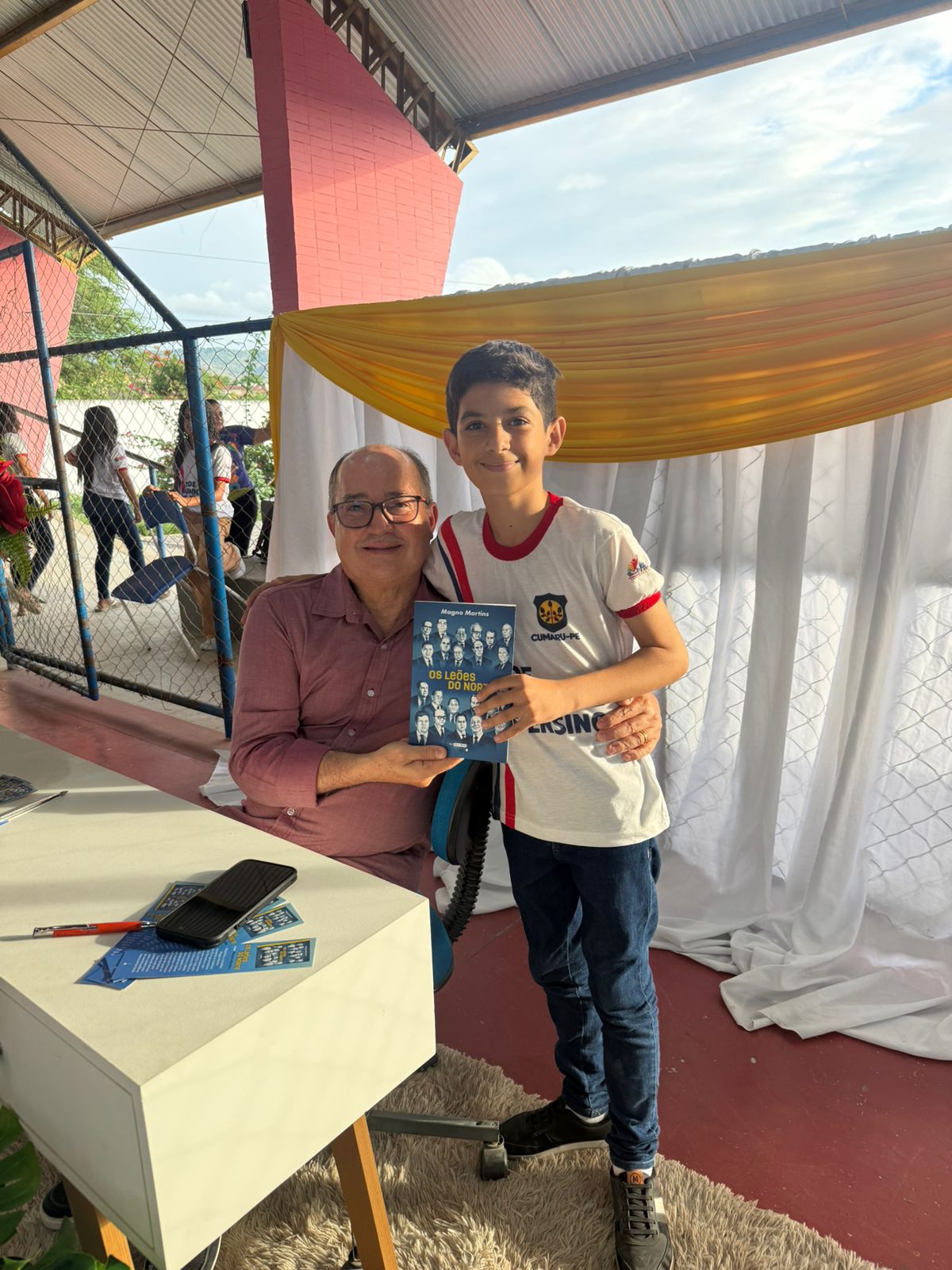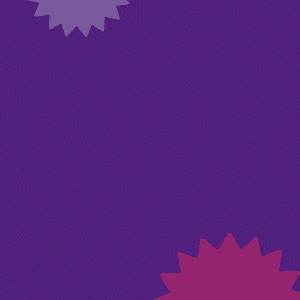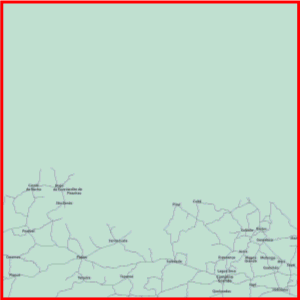Por Marcelo Tognozzi*
Maria era uma mocinha de 17 anos quando embarcou com a família num trem rumo ao Vale do Paraíba, deixando às pressas São Paulo, uma cidade em pé de guerra. Era julho, inverno, frio de 5°C. Seu pai, Joaquim Canuto de Oliveira, tabelião, fora homenageado 3 meses antes com uma festa que comemorou os 25 anos de suas “lides forenses”. A homenagem juntou dezenas de convidados no salão vermelho do Esplanada Hotel.
A família deixara a casa na Aclimação. Nas malas apenas o essencial. Rumava para a Estação da Luz fugindo do conflito iminente entre rebeldes liderados pelo general Isidoro Dias Lopes e tropas legalistas do presidente Artur Bernardes. Mais uns dias e São Paulo seria duramente bombardeada pelos Nieuport, Potez, Waco e Curtiss da aviação legalista.
Leia maisMaria, 1,5 metro de altura, levava no corpo dinheiro e joias da família. Ao pedir que ela guardasse aquela pequena fortuna, seu pai acreditava ser improvável que alguém atentasse contra uma mocinha. “Tome conta minha filha, ninguém vai fazer mal a você. Se alguma coisa acontecer conosco, cuide da sua irmã”, recomendou Joaquim. Maria cuidaria de Ana Amélia, de 4 anos, dormindo no sono solto no colo da mãe Guiomar.
O trem partia lento de São Paulo, café com pão, manteiga não. Ao longe era possível ouvir tiros, sons remotos de batalhas cercanas traziam medo e angústia. Maria julgou ser a mão da providência divina, seu pai um golpe de sorte a guerra urbana ter durado só 23 dias. Não demorou para estarem de volta a São Paulo, enquanto os rebeldes do general Isidoro eram empurrados em direção ao Paraná e, depois, formariam a temida Coluna Prestes. Maria foi à missa e agradeceu à Santa Terezinha.
Atrás daquela tropa em retirada jazia uma cidade amedrontada, boa parte semidestruída pelos bombardeios, corpos destroçados pelas ruas, cheiro de morte e sangue coagulado nas calçadas, vielas e becos.
A paz não durou muito tempo e 8 anos depois outra guerra bateu à porta da família. Desta vez a guerra levou João, noivo de Maria, para a frente de batalha do Vale do Paraíba. Era novamente julho, frio e as tropas iam em vagões de carga até perto do front.
João ficou nas trincheiras. Um dos 400 mil voluntários alistados. São Paulo de 1932 em guerra contra o governo Getúlio Vargas na Revolução de 1930. Queriam uma nova Constituição e eleições para presidente.
João tinha medo das batalhas aéreas no front do Vale do Paraíba, perto de Queluz, Cruzeiro, Resende e Lorena. A aviação legalista bombardeava as tropas sem dó, comandada pelo major Eduardo Gomes com seu Waco, o vermelhinho. Tocava o terror.
Soldados paulistas, como João, usavam a matraca, instrumento feito de madeira que imitava o som das metralhadoras e assustava o inimigo. Muitas salvaram a vida. A guerra durou 3 meses e Getúlio saiu dela vencedor.
João voltou para casa derrotado, barbudo, magro, com a mão esquerda ferida, o retrato da desolação. O Brasil viveu sua última guerra doméstica, depois de muitas como a Revolução Farroupilha, o Contestado, Canudos ou a Revolução Gaúcha de 1923.
Houve um tempo em que estas guerras eram parte do cotidiano das famílias brasileiras, como Maria, a mocinha que fugiu de trem em 1924 e, 36 anos depois, seria minha avó junto com João, que voltou vivo do front de 1932. O Brasil só voltaria para a guerra uma década depois, quando Getúlio trocou o apoio aos aliados por uma siderúrgica em Volta Redonda e mandou os pracinhas para a Itália.
O tempo em que as diferenças eram resolvidas pela força voltou em 1964 com a tomada do poder pelos militares. E 21 anos depois o país foi pacificado por Tancredo Neves e Ulysses Guimarães, Petrônio Portela e José Sarney, Marco Maciel e Nelson Carneiro.
Agora, 100 anos depois de 1924, a guerra está nas redes sociais, no dia a dia de negros contra brancos, mulheres contra homens, homos contra heteros, urbano contra rural. Nossa sociedade vai se desmantelando num momento em que o mundo ocidental, do qual somos parte, tem hoje 3 frentes de guerra sangrentas: Ucrânia, Israel e Nagorno-Karabakh na fronteira da Armênia com o Cazaquistão. E não há possibilidade de melhorar.
O Brasil nunca precisou tanto da pacificação e do entendimento. Vivemos um momento em que o desentendimento passou a ser uma forma de ascensão social e o maior exemplo foi a infeliz publicação da assessora da ministra da Inclusão Racial sobre a torcida branca e descendente de europeus do time do São Paulo. O odiento de hoje é o influencer de amanhã. A paz não dá mais Ibope.
Há ódio dentro do Executivo, da mesma forma que existe no Congresso e num Judiciário que tem julgado com muita raiva e pouca isenção os acusados das barbaridades de 8 de Janeiro. Estamos nos deixando contaminar, importando o ódio dos palestinos e judeus, dos russos e dos ucranianos, dos armênios e dos cazaques.
O efeito perverso das redes sociais nesses tempos é fazer com que as pessoas esqueçam nossa História, os sofrimentos das nossas famílias, aquilo que herdamos e nos fez chegar até aqui. Um país é sempre uma eterna construção, uma obra coletiva inacabada.
Uma sociedade em processo de autodestruição, onde as leis mudam a cada dia e necessidades passam a ser um direito, acima da lei e da escolha da maioria, acaba criando fugitivos, gente saindo em busca de um lugar melhor para trabalhar e progredir, criar seus filhos e ser feliz. E aquele país em eterna construção vira uma obra parada.
*Jornalista
Leia menos